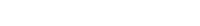Por Rodrigo Fonseca (Especial para o Correio da Manhã)
Considerado um dos mais prestigiados roteiristas do país, com “Bicho de Sete Cabeças” (2000) e “Bingo: O Rei das Manhãs” (2017) em seu currículo, o paulista Luiz Bolognesi já desfrutava de prestígio internacional, como realizador, na seara da animação, quando conquistou o troféu Cristal, de Annecy, em 2013, com “Uma História de Amor e Fúria”. Cinco anos depois, veio a consagração como realizador de .docs, ao sair do Festival de Berlim com uma menção honrosa por “Ex-Pajé”. Domingo passado, essa visibilidade decolou com o prêmio do júri popular por “A Última Floresta”.
Aos 55 anos, Luiz se firma como expoente de nosso cinema no exterior e um dos pilares da representação dos povos originários nas telas. Seu novo longa retrata o cotidiano de um grupo Yanomami isolado, que vive em um território ao norte do Brasil e ao sul da Venezuela há mais de mil anos. O xamã Davi Kopenawa Yanomami busca proteger as tradições de sua comunidade e contá-las para o homem branco que, segundo ele, nunca os viu, nem os ouviu. Na entrevista a seguir, o cineasta conta ao Correio da Manhã sobre essa premiada imersão nas matas.
Como é esse Brasil de Davi Kopenawa?
Luiz Bolognesi - É um Brasil que não tem só 500 anos. Tem mais... tem 4 mil anos. É um Brasil que vigia e ainda tenta viver em regime de fatura de carboidratos e proteínas, em que ninguém passa fome e que não há Estado, mas uma organização política e social extremamente desenvolvida, em que as lideranças são organizadas por atividades.
Como assim?
Funciona de seguinte forma: o melhor pescador lidera a pesca, o melhor guerreiro lidera a guerra, o melhor xamã lidera a cura, os cuidados, o conforto e assistência. É um Brasil em que não há privilégios, não há vértices. As cidades são redondas, as casas são iguais. O principal guerreiro, o mais famoso, mora na mesma casa que um humilde caçador. Casas similares com o mesmo formato e tamanho. É um país com muita curiosidade e interesse pelo outro. Muito mais alinhado com o desejo e a vontade de conhecer, entender e experimentar. É um país que sabe se defender. São guerreiros, sabem usar arco e flecha, sabem usar celulares, sabem usar a voz e ajuda dos espíritos para se defender quando se veem oprimidos... por outras ideologias e formas econômicas.
Que geografia você mapeou nas duas andanças pela floresta? De onde vocês saíram e até onde avançaram?
Eu diria “a geografia que nós mapeamos”. Nós, eu digo, meu time de cinema, pois a investigação cinematográfica é coletiva. É um fotografo, um produtor, um técnico de som, um assistente de fotografia. A gente junto estabelece uma investigação política e geográfica para poder contar a história. Basicamente, a geografia que a agente procurou mapear e traduzir para o homem branco e também levar para os jovens yanomamis, que era um dos objetivos do Davi Kopenawa, foi a geografia interior. A geografia vista de dentro para fora, como o espaço, o Universo, a filosofia, a economia e a realidade são percebidos pelos yanomamis. Era uma forma de mostrar como eles veem as coisas, como lidam com os conflitos, onde está a paz deles e as angústias.
Como foi feita a definição das locações?
Fomos para uma aldeia bastante afastada que se chama Watoriki, na divisa entre os estados de Roraima e Amazonas, uma área no coração da Floresta Amazônica, onde não há rodovias e nem se chega de barco, porque é montanha. Você só chega em um aviãozinho e é deixado lá, sendo resgatado tempos depois. No nosso caso três semanas depois.
Isolados da chamada civilização...
A gente estava em um local sem muita conexão, só havia o rádio, que funcionava às vezes, e não havia bares, supermercado, comida para comprar. Claro que levamos comida e nos preparamos para isso, para não impactar a delicadeza da sustentabilidade deles. As famílias ali vivem de roça. Não têm Bolsa Família. É uma escolha deles. Como vivem em uma área de caça, com roça, onde os rios ainda têm peixes, o Davi Kopenawa escolheu não receber nada dos brancos, porque não quer perder a forma de comer deles, a forma de caçar. Nem espingardas com pólvoras ele deixa o povo dele ter. Eles têm apenas uma arma de fogo, que fica guardada com o senhor mais velho, que só ele decide se pode usar. Perguntei para ele e o critério: “É só se uma onça estiver ameaçando as crianças”. Para se defender com arco e flecha e caçar com arco e flecha.
Como você avalia a história da representação dos indígenas no nosso cinema?
Precisaria refletir mais e pensar mais para responder. Talvez, a Sylvia Caiuby, antropóloga que estuda tanto etnologia como o audiovisual etnológico, tenha condições de responder. O que eu diria é que tem um audiovisual indígena antes e depois do Vincent Carelli (“Corumbiara” e “Martírio”). A grande transformação o audiovisual sobre e feito pelos indígenas se inicia com o Carelli no projeto Vídeo nas Aldeias, nos anos 1980. Ele levou câmeras e ministrou oficinas nas aldeias. Esse é o grande pulo qualitativo que transforma a representação do cinema indígena. Antes do Carelli, tínhamos pessoas brancas, como eu, tentando traduzir e apresentar o universo indígena. Depois dele, estamos tendo uma quantidade enorme de novos cineastas indígenas que estão chegando e produzindo uma cinematografia extremamente interessante, com o olhar indígena, com o tempo deles, de uma potência incrível. Essa é a mudança, quando os próprios índios assumem a câmera e o ponto de vista de sua história.
Quais são os seus atuais passos no cinema hoje, como roteirista e como diretor?
Estou para lançar uma outra série, com a produtora Gullane e a HBO, sobre funk. Chama “Funk.Doc”, está nos últimos detalhes de finalização e deve ser lançada no segundo semestre. Tenho um projeto de um novo longa, com questões indígenas. Estou com o roteiro pronto e vou começar a viabilizar as filmagens dele. Acredito que o prêmio de Berlim vai ajudar também.