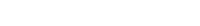Por Vicente Loureiro*
Desde quando a cidade é cidade ela convive com o comércio ocasional e o permanente. Diria até que um precedeu o outro. Primeiro com a permanência no lugar da sazonalidade, em seguida, elegendo locais fixos e apropriados, não mais ao léu, no meio da rua entre pedestres, cavalos e carroças. Mesmo mais protegida e confortável, a forma abrigada em lojas não fez sumir do mapa a outra, mais precária e improvisada. Surgiram então as feiras livres periódicas e os serviços e pequenos negócios ambulantes, incapazes de arcar com os custos de aluguel e impostos de um estabelecimento comercial.
Amoladores de faca, garrafeiros, pipoqueiros, leiteiros, padeiros, jornaleiros, engraxates, etc., atravessaram todo o século passado em logradouros públicos apregoando seus serviços e mercadorias quase sempre aos berros. Nos bairros e nas áreas centrais, nos dias úteis e nos domingos e feriados, não inúteis para eles, povoaram ruas e praças, muitas vezes transformando-se em figuras folclóricas. Algumas até a ilustrar o álbum da memória viva da cidade, graças às singularidades e inovações no modo de apresentar seu negócio. Junto aos feirantes, formavam um exército de semi incluídos na economia. Alguns, por habilidade ou tino comercial intuitivo, fizeram uma vida com dignidade. Alguns poucos até chegaram a juntar pequenas fortunas. Há casos famosos desse salto social acrobático.
Durante quase três quartos do século XX, a economia brasileira, até então com PIB mais assanhado e em marcha batida, manteve os chamados marreteiros na casa da permissão fugaz. Exigia aqui e ali uma licença, punha certa ordem na feira, mas não se deixava de plantar barracas. Uma vista grossa aqui outra acolá fingia não os ver e, quando o negócio ficava muito vistoso, um quiosque arranjado emprestava-lhe alguma oficialidade. Sempre em caráter precário, mas de vida definitiva. Com direito até a passagem de ponto e, por vezes, a um aluguelzinho na moita.
Assim foi até a depressão pós milagre econômico. A baita recessão com inflação galopante e desemprego em taxas nunca vistas no Brasil, já então bem urbanizado, fizeram brotar camelôs em praticamente todas as cidades de média para grandes. Nas metrópoles, então, eles brotavam nas calçadas. Pareciam massa de pão, quanto mais apanhavam mais cresciam. Se porrete e rapa desse jeito, eles seriam hoje espécie ameaçada de extinção. Endêmicos talvez ainda no Rio, devido as condições especiais do seu ecossistema político e econômico de tolerância bastante alargada.
Lá se vão cerca de 40 anos e não aprendemos a lidar com tal falta de inclusão. Acredita-se ainda que a tolerância zero, importada de país rico em oportunidades, vai dar conta de resolver problema estrutural de uma economia tão claudicante, com uma produção permanente e animada de excluídos do mercado de trabalho e renda. Ou alguém tem dúvidas de para onde irão, ou já estão indo, tentar ganhar a vida parte dos jovens “nem-nem” que ilustram nossa perversa estatística de acesso a um ganha-pão digno e minimamente protegido.
Os impactos anunciados pelo e-commerce, automação e trabalho remoto, apimentados pela crise da ocasião e os estragos causados pela pandemia, apontam para renovação deste exército de reserva de mão de obra não qualificada, que vive esgueirando-se entre possibilidades precarizadas de obtenção de algum rendimento no meio das ruas ou em uma viagem sem volta no avião do tráfico ou do crime.
O rapa leva junto com a mercadoria um pedaço de renda da subsistência e do capital de giro volátil. É ilusão pensar que o camelô sumirá do mapa da cidade ou região. Sem ter perspectiva de ocupação melhor no horizonte, ele voltará as ruas em outro lugar, pois segue sendo o ambiente de esperança em descolar algum honestamente ou quase. A tarefa de incluí-los é tão difícil, ou até mais, quanto a de reprimi-los. Mas, sem dúvida, muito mais civilizada, humana e justa. Devemos tentar remir essa dívida.
*Arquiteto e urbanista